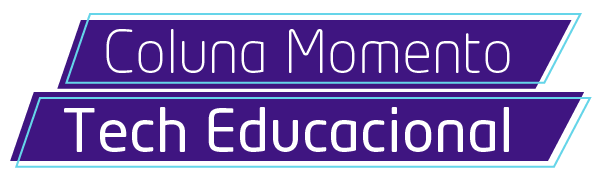“A tecnologia pode nos aproximar de tudo, menos de nós mesmos.” — Zygmunt Baumann
No coração do século XXI, as instituições de ensino se veem diante de uma inquietante contradição: enquanto as tecnologias digitais alcançam patamares inimagináveis de sofisticação e penetração, a experiência formativa parece se esvaziar de sentido, afeto e presença. A promessa de uma educação mais acessível, personalizada e eficiente convive com os sintomas de uma desumanização silenciosa — a transformação do estudante em dado, do professor em operador de sistemas, e da aprendizagem em mera entrega de conteúdos.
Essa realidade exige mais do que adaptações técnicas; demanda um enfrentamento ético, filosófico e pedagógico. Como formar seres humanos em ambientes cada vez mais mediados por telas, métricas e automatismos? Como preservar a complexidade da experiência educacional quando tudo ao redor parece convergir para a lógica da performance, da velocidade e da mensuração? A resposta não está na rejeição da tecnologia, mas na sua ressignificação — em reconhecer que o digital não é neutro e que seu uso deve ser submetido à pergunta fundamental: “para quem e com que finalidade educamos?”
Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que dissecou como poucos a fluidez da modernidade tardia, afirma que a tecnologia encurta distâncias, mas não supre ausências. Essa ausência — de escuta, de vínculo, de corporeidade, de convivência significativa — é o sintoma mais eloquente da crise educacional contemporânea. E é nesse cenário que vozes clássicas e contemporâneas se erguem como bússolas para uma travessia mais consciente.
Charles Spurgeon, pensador do século XIX, embora situado em outro tempo e vocabulário, já alertava contra uma pedagogia que produz “técnicos bem treinados e corações vazios”. Para ele, toda instrução que ignora o desenvolvimento do caráter humano caminha para a irrelevância social. Suas palavras encontram eco hoje nas universidades que, obcecadas por indicadores e rankings, correm o risco de educar para a eficiência, mas não para a humanidade.
Heber Campos Jr., pensador brasileiro contemporâneo, reforça que não existe formação neutra: todo currículo molda uma visão de mundo. Nesse sentido, a educação deve ser sempre integral, considerando o ser humano como unidade de razão, vontade e sensibilidade. Em sua crítica à fragmentação do saber, Campos Jr. propõe que a tecnologia seja ferramenta e não fim, ponte e não destino. Um sistema educacional que terceiriza vínculos à inteligência artificial ou reduz o aprendizado a trilhas automatizadas, trai a sua própria razão de ser.
Art Katz, com sua crítica incisiva aos sistemas que domesticam consciências e formatam indivíduos para o consumo, argumenta que toda verdadeira transformação educacional passa por confrontar estruturas que despersonalizam. Sua provocação adquire contornos ainda mais dramáticos no atual contexto de plataformas que medem engajamento por cliques e evasão por inatividade digital. A pergunta que se impõe não é quantos acessaram o conteúdo, mas quantos foram, de fato, tocados por ele.
Nesse esforço de reconexão com a dimensão humana do ensino, Dietrich Bonhoeffer oferece um horizonte promissor. Para ele, a vida comunitária não é um luxo da sociedade, mas condição para a existência ética. Aplicado ao universo educacional, esse princípio exige que os ambientes formativos — presenciais ou virtuais — sejam construídos com intencionalidade relacional. Isso implica pensar a tecnologia como meio de intensificar a escuta, fomentar a cooperação e criar espaços de alteridade, e não de anonimato.
As inquietações desses autores dialogam com o pensamento crítico de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, que denuncia a colonização da vida pelo excesso de positividade e dados. Para Han, a sociedade do desempenho, obcecada por métricas, elimina o outro como obstáculo e dissolve a alteridade no espelho narcísico da autoimagem. O sujeito contemporâneo não se forma, se projeta — e isso também tem implicações devastadoras para a educação. A universidade que abdica da formação crítica e da escuta do outro, ainda que tecnologicamente avançada, forma indivíduos hiper tecnológicos e emocionalmente frágeis.
É nesse terreno tenso e fértil que se inscreve a ideia de humanização tecnológica. Não se trata de estetizar a interface, adicionar emoticons a plataformas ou gamificar o processo educativo. Trata-se de uma reformulação profunda dos pressupostos da educação digital: do design centrado na pessoa à pedagogia da presença; da inteligência artificial à inteligência relacional; da cultura do controle à cultura do cuidado.
Essa nova abordagem exige um deslocamento epistemológico: deixar de ver o estudante como consumidor de conteúdo e passar a considerá-lo sujeito em formação integral. Isso envolve desenvolver metodologias que conciliem personalização com alteridade, autonomia com mediação, flexibilidade com responsabilidade. Significa, também, reconhecer que nem tudo que pode ser automatizado deve sê-lo — sobretudo aquilo que envolve escuta, decisão ética e vínculo humano.
As experiências mais inovadoras nesse sentido não são necessariamente as mais high-tech, mas aquelas que recuperam o sentido da presença, mesmo em ambientes digitais. Algumas universidades têm criado espaços virtuais de escuta ativa, onde tutores identificam, pelas entrelinhas de fóruns e chats, os sinais de cansaço emocional. Outras investem em mentorias híbridas que combinam inteligência artificial para personalização com encontros reais que fortalecem o vínculo. Em todas elas, o elemento comum é a convicção de que a tecnologia deve servir ao humano, e não o contrário.
Há ainda o desafio de formar professores para esse novo horizonte. Não basta capacitá-los tecnicamente; é preciso reconstruir seu papel como mediadores de sentido, curadores do conhecimento e agentes de cuidado. A educação do futuro será tão forte quanto a sensibilidade de seus educadores — e isso não se compra em pacotes de software.
Por fim, cabe uma advertência: a tecnologia, por sua própria lógica, tende à expansão irrestrita. Se não for questionada, ela ocupará todos os espaços, inclusive os que deveriam ser habitados pelo silêncio, pela escuta, pelo pensamento lento. A universidade do futuro — se quiser ser ainda humana — terá que ser também espaço de resistência: contra a pressa, contra a padronização, contra a desatenção.
Como lembra uma máxima atribuída a Bonhoeffer, “a prova de uma comunidade está em como ela trata os seus mais frágeis”. No caso da universidade, isso se traduz em como ela cuida dos que aprendem com mais lentidão, dos que não se adaptam ao ritmo digital, dos que têm mais perguntas que respostas. É nesse cuidado que se revela a grandeza de uma instituição.
No fim das contas, o verdadeiro teste da tecnologia não é sua eficiência, mas sua capacidade de preservar — e até potencializar — aquilo que nos torna humanos. E, para isso, o algoritmo precisa aprender a abraçar.
Você quer saber mais sobre os Cursos da Pro Innovare em contato com contato@proinnovare.com.br